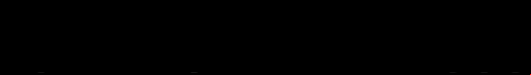“O Eternauta” chega à Netflix como ficção que resiste ao tempo e aos clichês
Adaptação mergulha em tensão psicológica, propondo uma visão moderna do clássico argentino
Adaptações devem entender o espírito da obra original antes de pensar em transpor suas palavras ou imagens. “O Eternauta”, série argentina baseada na HQ de Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López, entende isso com clareza. Criada e dirigida por Bruno Stagnaro e protagonizada por Ricardo Darín, a série acerta justamente onde tantas adaptações fracassam: não se limita a copiar a superfície do material original, mas extrai dele a alma, mesmo que mude as roupas. E faz isso sem pedir licença.
Ao trazer a história para os dias atuais, Stagnaro corta custos com produção de época (isso é uma grande fatia financeira) e retira a narrativa do seu contexto histórico imediato (a Argentina dos anos 1950) para testá-la no mundo de hoje, onde o autoritarismo já não usa fardas nem tanques, mas algoritmos, fake news e indiferença. A adaptação, nesse sentido, ganha corpo próprio, embora ainda carregue no DNA as marcas da crítica feroz a ditaduras, intervenções externas e desumanização política que marcaram a obra original.
Leia Também
• “The Handmaid’s Tale” chega ao fim com fôlego renovado e direção afiada
• “You” chega ao fim tentando reencontrar o que já perdeu
• Pela Netflix, documentário revisita a tragédia de Congonhas e o descaso que matou 199 pessoas
Os seis episódios da primeira temporada cobrem basicamente a primeira parte da HQ: o começo do apocalipse e o isolamento forçado de Juan Salvo, sua família e seus amigos durante uma nevasca tóxica em Buenos Aires. E é aí que a série encontra sua força maior.
Ao invés de acelerar para os grandes conflitos e revelações que vêm depois, Stagnaro finca os pés na espera, na claustrofobia, na tensão dos pequenos espaços e dos silêncios prolongados. Em vez de construir herois, a série nos apresenta sobreviventes imperfeitos, egoístas, pragmáticos e covardes. Gente comum. Ou como diria o próprio Salvo, “gente tentando não morrer”.
Ricardo Darín entrega um Juan Salvo contido, quase antipático, movido mais por instinto do que por altruísmo. Não há carisma fácil nem frases de efeito: há urgência, medo, incerteza. Seu contraponto é Favalli (César Troncoso), espécie de pequeno tirano doméstico cuja lógica é a autopreservação total. E se há algum espaço para sensatez, ele vem das personagens femininas, que observam o colapso do mundo com menos apatia e mais compaixão, mesmo sob risco iminente. O subtexto é claro, mas nunca panfletário.
A fotografia de Gastón Girod e a direção de arte de María Battaglia e Julián Romera constroem uma Buenos Aires aterradora, não pelos monstros, mas pelo vazio. A cidade congelada, sem luz e sem vida, é uma personagem por si só, com uma presença física que pesa no peito. A neve, abundante e sufocante, vai além de efeito visual: é uma metáfora visível da alienação e do entorpecimento coletivo. Tudo isso filmado com um olhar que evita a artificialidade mesmo nos momentos mais tensos, e que reserva os efeitos digitais apenas ao essencial, quando eles aparecem, fazem por merecer.
A decisão de manter o mistério central da história em suspenso também é um acerto raro. A série não se apressa em explicar o que está acontecendo, nem dá respostas fáceis ao público. Há pistas, mas não há mapas. E isso, hoje em dia, exige coragem, especialmente em uma plataforma como a Netflix, acostumada a guiar o espectador pela mão. Aqui, quem quiser compreender por completo o que está em jogo vai precisar esperar ou, melhor ainda, encarar a HQ original.
*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.
*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.