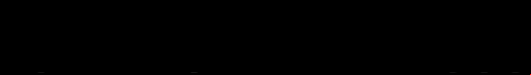“The Handmaid’s Tale” chega ao fim com fôlego renovado e direção afiada
Novos episódios reafirmam o talento de Elisabeth Moss como diretora e protagonista
Após seis temporadas, “The Handmaid’s Tale” ainda sabe como nos incomodar, e esse sempre foi a sua maior qualidade. A distopia criada a partir da obra de Margaret Atwood, marcada por uma estética opressora e atmosferas de tensão constante, se despede mantendo a força simbólica que a tornou uma das séries mais importantes da última década.
Com ótima direção, atuações potentes e um senso de urgência que havia se diluído nos últimos anos, a temporada final parece determinada a terminar de pé e não apenas existir por inércia.
Leia Também
• “You” chega ao fim tentando reencontrar o que já perdeu
• Pela Netflix, documentário revisita a tragédia de Congonhas e o descaso que matou 199 pessoas
• De olho em “Grey’s” e “The Pitt”, “Pulso” tenta correr atrás do próprio ritmo
Elisabeth Moss continua a ser o foco emocional da trama. Seja como atriz ou diretora, ela imprime um controle absoluto sobre o tom dos episódios, conduzindo cenas carregadas de dor, raiva e resiliência sem apelar para exageros fáceis. Sua June continua imprevisível, e o que poderia soar como repetição encontra novas camadas à medida que o roteiro traz consequências mais claras para as escolhas da personagem. A sensação é de que, finalmente, há um norte.
A temporada acerta, também, quando decide acelerar o ritmo, e isso não significa sacrificar a densidade. A narrativa avança com mais segurança, intercalando momentos de confronto político, dilemas morais e uma sensação constante de que qualquer alívio pode ser ageiro.
O texto ainda exige certa boa vontade do espectador em pontos específicos, algumas decisões e reviravoltas podem ser questionáveis, mas o saldo emocional é forte o bastante para sustentar essas concessões.
Uma série irretocável
Os coadjuvantes também têm espaço mais justo. Serena, vivida por Yvonne Strahovski, continua fascinante em sua dualidade, agora flertando com a possibilidade de mudança dentro da própria estrutura que ajudou a alimentar. Lawrence (Bradley Whitford), Tia Lydia (Ann Dowd) e Nick (Max Minghella) enfrentam dilemas internos que deixam de ser apenas peças de apoio e se tornam peças centrais na reflexão sobre poder, arrependimento e justiça.
Visualmente, a série segue irretocável. A fotografia permanece carregada de significado, e a trilha de Adam Taylor (com boas intervenções, como a inclusão de Radiohead) cria atmosferas que complementam o que as palavras não dizem. A linguagem é de cinema, sem pressa, mas agora com um tempo melhor istrado.
A despedida de “The Handmaid’s Tale” é, sim, um alívio, porque seis temporadas foram mais do que o suficiente. Mas é também uma despedida com dignidade, que entrega o que prometeu desde a primeira cena da série: incômodo, resistência e emoção. Sem perder sua voz. E, talvez, tendo reencontrado o próprio fôlego bem na hora de dizer adeus.
Novos rumos
Mesmo com o encerramento de “The Handmaid’s Tale”, o universo distópico de Gilead ganha uma sobrevida. A autora Margaret Atwood já havia expandido esse mundo no livro “Os Testamentos”, e é justamente nessa obra que se baseia o próximo o da franquia: a série derivada já está em desenvolvimento e deve continuar a explorar os desdobramentos do regime e seus personagens, em especial o futuro de Tia Lydia.
A expectativa é que o spin-off mantenha o olhar crítico e a tensão narrativa da série original, mas com novos focos e possibilidades. Se a equipe criativa conseguir manter o equilíbrio entre impacto visual, profundidade dramática e coerência política, “Os Testamentos”, que é ambientado 15 anos após os acontecimentos do primeiro livro, pode ser a chance de revisitar Gilead sob outra perspectiva, com a maturidade conquistada ao longo desses seis anos.
*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.
*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.